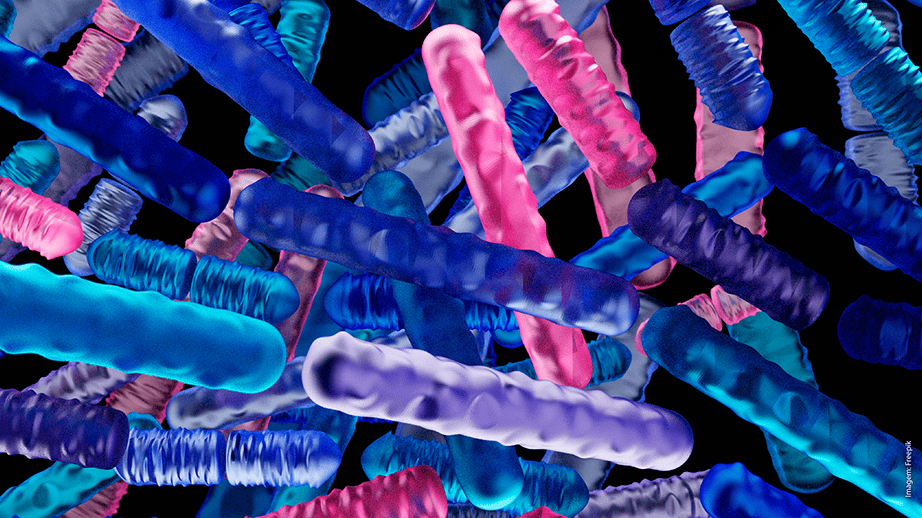Hanseníase, uma doença complexa e sorrateira
Ela tem tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde, mas o país ainda encara desafios no diagnóstico e monitoramento dos pacientes
A condição, que já aparecia em relatos bíblicos com o nome de lepra, é causada pela bactéria Mycobacterium leprae, patógeno identificado em 1873 pelo norueguês Gerhard Hansen – daí por que foi rebatizada como hanseníase. Mas ela está longe, muito longe de ter ficado no passado.
Também há muito tempo se sabe como a doença é transmitida, como explica o dermatologista Marco Andrey Cipriani Frade, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP): “O contágio acontece pelas gotículas liberadas pelas vias aéreas superiores do doente. Quando ele espirra, tosse ou fala, expele essas gotículas, que carregam os bacilos da hanseníase. Para se transmitir para outro, há necessidade de um convívio mais próximo entre esses indivíduos”, diz. “Ao diagnosticar um caso, é muito importante avaliar quem está no entorno, porque essas pessoas têm de seis a dez vezes mais chance de adoecerem”, continua.
De acordo com o Andrey, também presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH), essa é uma condição bastante sorrateira. “Dependendo da resposta imunológica do paciente, os bacilos vão se multiplicando e os sinais demoram a aparecer. Sem essa caracterização, ele pode seguir espalhando o agente mesmo estando assintomático”, justifica. “A única forma de interromper a transmissão é tratando do doente com antibióticos”, resume.
Uma das dificuldades para fazer o diagnóstico é que o bacilo se multiplica lentamente no organismo. O tempo entre o contágio e o aparecimento das lesões mais específicas da hanseníase é muito variável, depende da resposta imune de cada um e pode levar de cinco anos a décadas.
“É uma doença primariamente do nervo. Ela se instala, gera uma inflamação que pode causar dormência e formigamento, sintomas por vezes associados a outros problemas. Com o passar dos anos, a resposta das defesas vai aumentando e faz com que as lesões de pele apareçam, juntamente com diminuição ou perda de sensibilidade ao calor, ao frio ou à dor”, observa Marco Andrey. “Só que é justamente a sensibilidade que nos protege do meio ambiente, é o que faz a gente tirar a mão da panela quente, dar um pulo quando pisa numa tachinha”, pondera. Se a pessoa não sente dor, abre caminho para processos infecciosos que por vezes levam à necessidade até de amputações. “Sem contar que a hanseníase provoca alterações motoras, como dificuldade de fazer movimento de pinça, de segurar uma xícara, um talher, abotoar a camisa”, exemplifica. Também os membros inferiores podem ser atingidos, além dos olhos. “É a segunda doença de causa infecciosa que leva à cegueira”, conta Andrey.
É preciso falar mais sobre a doença
Para a médica de saúde coletiva e dermatologista Isabela Maria Bernardes Goulart, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o conhecimento da hanseníase tem de ser mais amplamente divulgado, como acontece durante a campanha Janeiro Roxo, criada para conscientizar sobre essa condição, ainda cercada de estigmas. “Não basta falar só em manchas na pele, é preciso abordar desde a dor no trajeto de nervos até a paralisia facial, fazer o diagnóstico diferencial com muitas doenças da área de reumatologia”, ressalta. “As pessoas estão vivendo mais, têm diferentes comorbidades, os sintomas confundem. Se alguém apresenta dormência em alguma área do corpo, tende a achar que tem relação com diabetes, por exemplo, e na verdade pode se tratar da ação do bacilo nos nervos”, argumenta.
Uma das preocupações dos especialistas é o impacto que a crise sanitária da Covid-19 causou no cenário do diagnóstico. “A cada ano da pandemia, perdemos a oportunidade de detectar pelo menos 10 mil casos novos, ou seja, tem 40 mil pessoas com a doença que ainda não foram encontradas depois desse período”, destaca Marco Andrey.
De toda forma, o dermatologista da USP atribui o alto número de registros da doença no país – o segundo no ranking mundial, atrás apenas da Índia – também à qualificação dos profissionais para fazer a detecção da hanseníase por meio de avaliação clínica. “A Sociedade Brasileira de Hansenologia assume que o diagnóstico é muito mais por perda de função do que morfológico, ou seja, pelo achado do bacilo. Nossos estudos demonstram que 50% dos pacientes têm os exames laboratoriais negativos, como baciloscopia, biópsia e PCR. Isso em razão da multiplicação lenta do patógeno. Se a carga bacilar é baixa, a doença demora a aparecer nos exames”, explica.
“Trabalhamos muito pelo aprimoramento técnico dos profissionais para fazer testes de avaliação de sensibilidade, de força, além de palpação a fim de notar espessamentos de nervos periféricos”, relata.
Monitoramento faz diferença
“Hanseníase é uma doença crônica, silenciosa, insidiosa, que se apresenta em múltiplos níveis e impacta todo o sistema de saúde. Ela não se cura em três meses. O paciente precisa receber atendimento rápido e ser acompanhado”, defende Isabela Goulart.
O tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde é a poliquimioterapia, uma associação de antibióticos. Tem duração de seis meses para as formas com menos bacilos, chamadas paucibacilares, e de 12 meses para as multibacilares. “Mas isso não resolve. Temos que avançar. Cada paciente é único, não se deve massificar e tratar todo mundo igual. Senão estamos tratando o bacilo, não o doente. Se um indivíduo não se sente bem com determinado medicamento, então é preciso encontrar meios alternativos, para não comprometer a adesão à terapia”, analisa.
De acordo com a médica, o Brasil conta com profissionais preparados para fazer o monitoramento adequado dos pacientes. “Temos uma situação diferente da que verifiquei na Índia, em 2011. Esse país se preparou para contar lesão e fornecer as cartelas de medicamento”, diz. “Com a capilaridade de nosso sistema de saúde, podemos e devemos criar uma rede de atenção à hanseníase, capaz de dar suporte aos doentes em longo prazo”, diz a especialista, que é coordenadora do Centro Nacional de Referência em Hanseníase e Dermatologia Sanitária (Credesh/UFU), uma das seis instituições no país voltadas a esse fim.
O plano terapêutico ideal prevê acompanhamento com fisioterapeuta, assistente social, dentista, enfermeiro. “No Credesh, fazemos ainda vigilância de contatos, realizando sorologia. Se o teste dá positivo, buscamos identificar se já tem algum nervo afetado sem que a pessoa esteja percebendo”, descreve Isabela Goulart.
Para a médica da UFU, é possível expandir esse modelo. Até porque, é muito mais caro para o sistema de saúde se a pessoa ficar com sequelas, precisar se aposentar e fazer reabilitação por não ter recebido monitoramento adequado. “O paciente merece um atendimento digno para evitar que a doença avance e cause deficiências”, conclui Isabela Goulart.
, 17 de dezembro de 2024